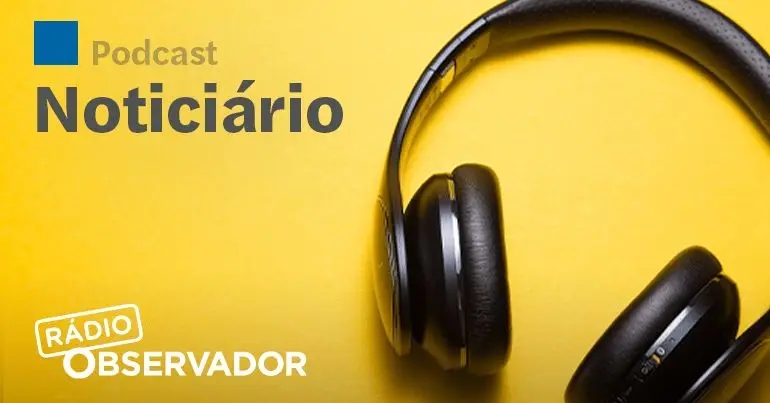A política do descontentamento

Escrevia Platão que o pior castigo, se não quisermos governar nós mesmos, é sermos governados pelos que são piores do que nós. Em boa verdade, esta escolha é um privilégio das elites. De facto, o governo dos povos coube sempre a uma minoria, mesmo quando adornada com uma qualquer submissão rigorosa à vontade popular. Cumprindo-se o inverso, já avisavam oportunamente os Founding Fathers dos EUA, a condução dos destinos de um Estado é empurrada para um desgoverno indomável. Contudo, a situação de domínio da maioria por uma minoria é aceitável para as massas apenas na medida em que estas sentem que as suas sensibilidades estão a ser ouvidas, que as suas preferências estão a ser tidas em conta e que as suas necessidades estão a ser concretizadas.
Historicamente, um exímio entendedor desta dinâmica foi Andrew Jackson. O sétimo presidente dos EUA (no poder entre 1829-1837) revolucionou a forma de fazer campanha eleitoral. Até então, as campanhas eram altamente elitistas, marcadas por movimentações de influência entre os notáveis, o que motivava os incumbentes a uma certa passividade no contacto com as pessoas comuns. Em 1828, essa voltou a ser a postura de John Quincy Adams, que confiava no seu estatuto e esquecia-se de sair à rua. Enquanto isso, Andrew Jackson viajava pelo território estadunidense, em longas horas de travessias, fluviais e terrestres, à procura de mobilizar as massas e de granjear o seu apoio.
A campanha não foi bonita, mas foi cozinhada com uma receita que hoje conhecemos bem. Para Jackson, as elites, afastadas do cidadão comum, decidiam sistematicamente contra o interesse nacional, e permitiam que o cosmopolitismo e a imigração levassem consigo a segurança económica das classes trabalhadoras. Neste sentido, Walter Russel Mead argumenta que Donald Trump se transformou num veículo da “revolta jacksoniana” do outro lado do Atlântico.
Hoje, mais do que nunca, observamos esta história a repetir-se. No seu olhar arguto sobre o presente, Michael J. Sandel argumenta que o advento da globalização veio aprofundar uma clivagem já antiga, entre os que são beneficiados e os que são prejudicados pelo aumento da frequência e velocidade das comunicações, pelo progresso tecnológico e o advento da inteligência artificial, e pelo desenvolvimento económico e a integração dos mercados.
No fundo, os nossos dias movem-se numa aceleração que centrifuga, deixando os poucos no centro e enviando os muitos para as periferias. Este movimento ceifa o chão de todos aqueles que não conseguem beneficiar dos seus frutos, daqueles que não estudaram, que não viajaram, que têm empregos pouco qualificados, que vivem no interior ou nas periferias. São os “vencidos da globalização”.
Nas décadas finais do século XX, as preocupações materialistas (económicas) perderam terreno para as questões pós-materialistas (culturais e identitárias). Actualmente, verificamos uma nova inversão: as massas “centrifugadas” vêm exigindo cada vez mais respostas para as suas preocupações materiais e os cidadãos “vencidos” manifestam um cansaço em relação ao foco excessivo em questões identitárias. Sem as suas necessidades quotidianas resolvidas, sentem-se ameaçados pela expressão das minorias e dos seus direitos.
Esta dinâmica tem vindo a marcar o nosso tempo. Vimos suceder nos EUA. Vimos suceder no resto da Europa. Vemos agora por cá. Um livro de Vicente Valentim mostra como certas opiniões, outrora socialmente inaceitáveis, esperavam apenas por quem lhes desse eco partidário. Gradualmente, o sucesso dos partidos radicais de direita diminui as reticências dos eleitores individuais em expressar as suas visões. Em Portugal, João Cancela e Pedro C. Magalhães, mostram como a principal associação entre o voto na direita radical e a ruralidade se faz porque estes eleitores se sentem “politicamente negligenciados” (e não motivos económicos ou culturais).
As elites podem optar por governar elas próprias ou ser governadas por quem é pior do que elas. Mas as massas não participam dessa escolha. Ao invés, impõe-se aceitarem ser lideradas por quem é diferente delas ou por quem é igual a elas. A escolha dependerá da percepção de serem (ou não) ouvidas. Enquanto as elites mainstream andam de fato e gravata a ver qual é que cai primeiro, as pessoas continuam sem respostas. Sem respostas nos rendimentos, na saúde, na habitação, nos transportes e na educação. Assim, é simples: “escolhemos os que são como nós, mesmo que representem o que de pior há em vós!”. Foi isto que ouvimos no domingo.
observador